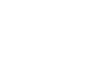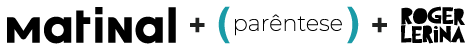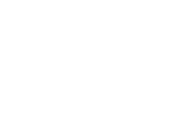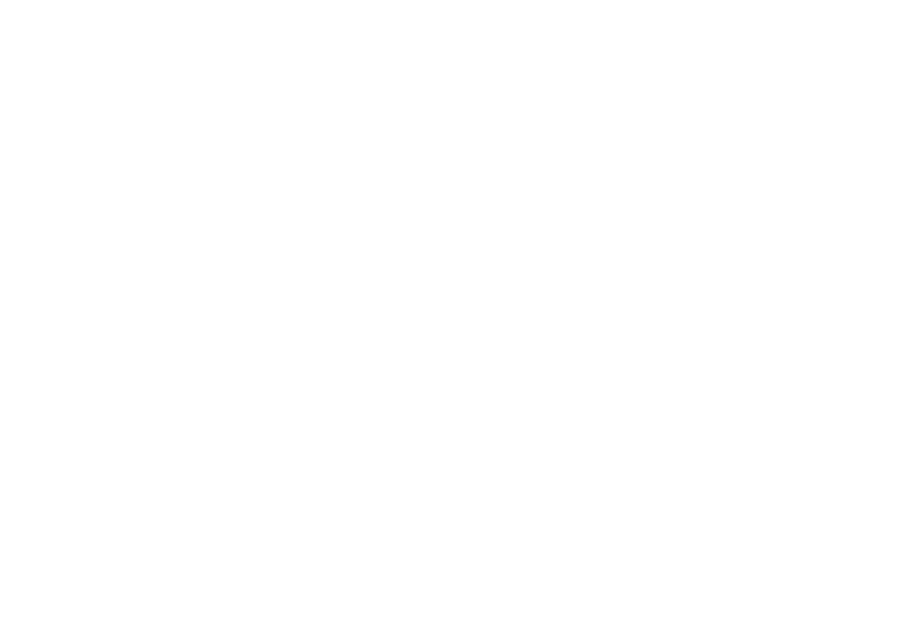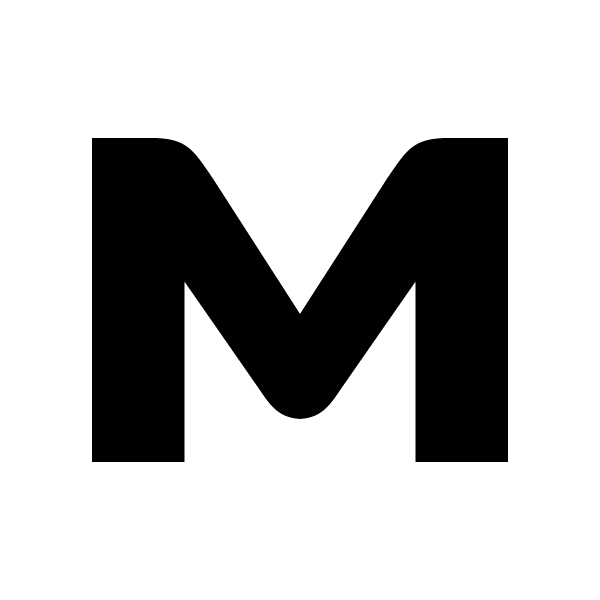Licínio Azevedo, um gaúcho filmando na África
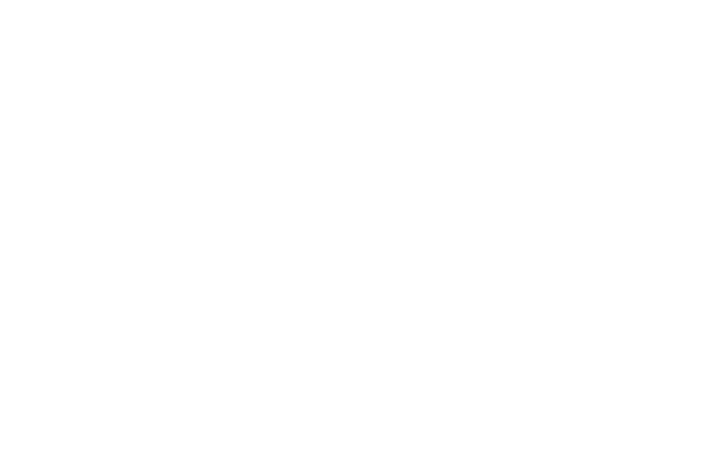 (Foto: arquivo pessoal)
(Foto: arquivo pessoal)Licínio Azevedo é um gaúcho jornalista, escritor, roteirista, produtor e diretor de cinema, radicado em Moçambique desde o final dos anos 70. Nasceu em Novo Hamburgo, em 27 de maio de 1951. Anos depois, em Porto Alegre, estudou no Colégio Júlio de Castilhos, cursa um ano de Direito e vai para o jornalismo, formando-se em 1975, pela PUCRS. Ainda na faculdade, começou a trabalhar na reportagem policial em Zero Hora e depois, a convite do saudoso jornalista Jéffeson Barros, continuou sua carreira de repórter na Folha da Manhã, como editor de polícia. Investigou o delegado Pedro Selling, titular do DOPS, acusado de tortura e homicídios. Isso lhe valeu uma perseguição sem tréguas, o que levou a deixar o Rio Grande do Sul. Esteve na Argentina, durante as guerrilhas do ERP e dos Montoneros, no Peru, na Bolívia e na Guatemala, entre outros países da América Latina, sempre cobrindo movimentos de libertação popular e temas sociais. Na sua volta, em São Paulo, no Jornal da Tarde, publicou com Caco Barcellos e fotos de Avani Stein uma série de reportagens sobre o terremoto da Guatemala, ocorrido em 4 de fevereiro de 1976. Na capital paulista também trabalhou na imprensa independente e foi editor e colaborador de várias publicações da imprensa alternativa brasileira, entre elas: Versus, Movimento, Repórter, Opinião, além do Coojornal, no sul. Foi um dos ganhadores do prêmio Wladimir Herzog, em 1980, com a reportagem “Valeu a pena voltar?”, publicada no Coojornal, de Porto Alegre.
Em 1976, começou a trabalhar no exterior, primeiro em Portugal e depois na Guiné Bissau, onde trabalhou no jornal Nô Pintcha. Sua ligação com Moçambique tem início em 1978, quando vai para a capital, Maputo, convidado por Rui Guerra, que então retornava à sua cidade natal – antes chamada de Lourenço Marques. Colaborou para a criação do Instituto Nacional de Cinema, quando conviveu com visitantes ilustres como Jean Rouch, Jean-Luc Godard, José Celso Martinez Correa, Murilo Salles, Guel Arraes, Santiago Alvarez e muitos outros. Foi então que começou a escrever textos e roteiros para documentários, caso de Mueda – Memória e Massacre (Ruy Guerra, 1979). Seu livro Relatos de um povo armado (1983), sobre episódios da guerra pela independência, serviu de base para o roteiro de O tempo dos leopardos (1985), primeiro longa-metragem de ficção moçambicano, dirigido pelo iugoslavo Zdravko Velimirovic. Outro livro seu Moçambique – Com os Mirages sul-africanos a quatro minutos, também foi transformado em roteiros de documentários.
Depois de radicado em Maputo, fundou a pioneira produtora de cinema moçambicana, Ébano Multimídia, responsável por documentários premiados em todo o mundo. Licínio é o único cineasta vencedor por três vezes do FIPA (Festival Internacional de Produções Audiovisuais), de Biarritz, o mais importante evento europeu de obras para televisão: duas vezes o troféu de prata para filmes de ficção e uma vez o de ouro para grandes reportagens. Em 1999, ganhou o Prêmio FUNDAC (Fundo para o Desenvolvimento Artístico e Cultural), de Maputo, pelo conjunto da sua obra e, em 2015, foi homenageado pela cinemateca portuguesa com o ciclo O Espírito do lugar: Licínio Azevedo, cineasta de Moçambique. No início de novembro, neste ano, ganhou uma incensada retrospectiva do seu trabalho na Alemanha, no 39 Französiche Filmtage.
Seu romance, Comboio de sal e açúcar (1997), ambientado na guerra civil de Moçambique, foi dirigido por ele para o cinema, com lançamento em 2016 no Festival de Locarno. Comboio de sal e açúcar marca também a primeira coprodução com o Brasil, especificamente com uma produtora gaúcha, a Panda Filmes, de Beto Rodrigues. Este longa foi escolhido para representar Moçambique na categoria de melhor filme estrangeiro para a cerimônia do Oscar de 2018, sendo a primeira vez que um filme moçambicano foi submetido ao Academy Award. Comboio é o segundo filme da Trilogia “Amor e Guerra”, iniciada com o filme “Virgem Margarida”.
Outro momento importante na sua trajetória foi o lançamento de Acampamento de desminagem (2005), um dos seus mais contundentes documentários, onde ele reflete sobre as consequências da guerra civil que assolou Moçambique por duas décadas e que resultou em miséria generalizada e em minas terrestres espalhadas por todo o território. Ele sempre esteve ao lado das lutas e das ações protagonizadas pela FRELIMO (Frente de libertação de Moçambique), de orientação marxista. A independência dos portugueses aconteceu em 1975, mas o acordo de paz só foi assinado pelas duas partes em 1992. Licínio Azevedo é parte dessa história e seus filmes estão impregnados com estes acontecimentos. Ele fez a opção de ficar na África, que adotou como sua segunda pátria, e construiu uma obra sólida e coerente em Moçambique, se transformando no cineasta gaúcho mais africano de que se tem notícia. Seu cinema mistura realidade e ficção, sempre com o uso de não atores e seus dialetos originais, características encontradas no neorrealismo italiano. É uma filmografia extraordinária que agora, finalmente, poderá ser conhecida pelos gaúchos. Ele é um guerrilheiro cultural, repórter talentoso e inigualável contador de histórias. Um roteirista e diretor de cinema premiadíssimo que produziu mais de 12 longas metragens e dezenas de documentários de média e curtas metragens.
Agora os gaúchos terão uma oportunidade imperdível para conhecer o trabalho de Licínio Azevedo, através de uma retrospectiva da sua filmografia, a ser realizada na cinemateca Paulo Amorim, entre os dias 2 e 10 de dezembro, sempre às 19 horas, organizada pelo IECINE, Cubo Filmes, Casa de Cultura Mário Quintana e revista Parêntese. O melhor é que, em todas as sessões, o diretor gaúcho, radicado na África, estará presente para apresentar e comentar os seus filmes.
Não foi fácil fazer uma curadoria do seu trabalho e escolher os filmes que participarão desta mostra. Contei com o auxílio luxuoso de Glênio Póvoas e Mônica Kanitz. Entre os filmes que serão apresentados destacamos: O tempo dos leopardos ( 1985), A árvore dos antepassados (1993), A guerra da água (1995), Desobediência (2002), Virgem Margarida (2012) e Comboio de sal e açúcar (2016).
O projeto foi incentivado e apoiado pela revista Parêntese e contou com a direção de produção de Cláudio Fagundes, da Cubo Filmes. O diretor do IECINE Zeca Brito e Mônica Kanitz, coordenadora de programação da Cinemateca Paulo Amorim foram os responsáveis pela viabilização do projeto.
Nesta edição estamos publicando uma entrevista com Licínio Azevedo, direto da Maputo, que contou com a participação de Carlos Caramez e a colaboração inestimável de Roger Lerina, na qual ele falou da sua obra, da vida e dos seus planos futuros. Além da entrevista aqui publicada, nossos leitores terão disponível um link para a assistirem a seu conteúdo na íntegra com todo o papo que rolou, editada por Mauris Hansen, da Cubo Filmes.
(Texto: Carlos Caramez)
Parêntese – A independência de Moçambique aconteceu em 1975, e desde 1978 você está radicado em Maputo. Participou no pioneiro Instituto Nacional de Cinema, ao lado de Rui Guerra, e conviveu com outros cineastas importantes, como Godard e Jean Rouch. Como foi a sua adaptação ao continente africano?
Licínio Azevedo – O país se manteve unido e o cinema teve um papel fundamental, porque mostrava informações de sul a norte, de norte a sul, quer dizer, as pessoas se viam como um conjunto, como moçambicanos, e não como moradores que habitavam uma região e que falavam uma língua parecida. Nessa época, desde o princípio, eu trabalhava com as equipes de documentários. A minha parte era fazer o roteiro e depois o texto para narração, porque eram documentários bastante clássicos. Só que depois, quando eu comecei a dirigir, como realizador, eu comecei a fazer e a utilizar uma linguagem mista. E não é “doc-drama” porque eu não suporto essa designação, mas era como se fosse uma narrativa, como se fosse contada, enquanto na verdade era a realidade que estava passando diante da câmera. Então, com o Rui Guerra, acompanhei alguns trabalhos dele, trabalhei com ele, fiz textos, pesquisas.
Com o Godard foram mais palestras no Instituto Nacional de Cinema, porque ele fazia longas palestras, conversava conosco, fiz entrevistas com ele. Algumas foram publicadas no Brasil também, não sei se em jornal ou na revista Versus, além do jornal Movimento. O Jean Rouch eu só estive com ele algumas vezes em conversas informais, porque ele trabalhava mais voltado para a universidade, não para o Instituto Nacional de Cinema. Eram três opções diferentes: o Rui Guerra trabalhava com 16 milímetros, que era o laboratório no Instituto Nacional de Cinema.
O Jean Rouch trabalhava em super 8, alguma coisa assim. Enquanto o Godard foi o gajo – o homem, desculpa, gajo é uma expressão moçambicana – que trouxe a inovação com o vídeo. Ele desde o princípio começou a gravar em vídeo. Ele tinha um projeto que não deu certo, por motivos diversos: queria uma televisão lá no norte do país, uma zona rural que seria gerida pelos próprios camponeses. Mesmo que tivesse começado, não teria condições de manutenção, era uma zona muito remota. Eu tive, quando trabalhei lá, essa experiência várias vezes, estava no mato, o equipamento avariava e tu não tinhas como terminar o trabalho. Imagina uma televisão lá no meio do mato no extremo norte, a dias de viagem aqui de Maputo.
Então, foi basicamente isso, acompanhei essa etapa, uma época muito rica, muito debate, eu às vezes até fugia desses debates. Porque eram às vezes 3, 4 horas para discutir um projeto. Tudo era discutido coletivamente.
Parêntese – Nessa época o Zé Celso Martinez (diretor do Teatro Oficina/SP) filmou o *25 aí, ele e o Celso Lucas. Tu estavas junto?
LA – Foi antes, foi no período da independência, em 75 os dois estiveram aqui e fizeram esse trabalho. Esse trabalho já estava pronto quando eu cheguei. Eu cheguei aqui em 78, ele esteve aqui em 75, mesmo período da independência.
Parêntese – O Miguel Arraes e o Murilo Salles também estiveram aí.
LA – O Murilo trabalhou no Instituto Nacional de Cinema. O Guel Arraes trabalhou ligado ao projeto do Jean Rouch, na universidade. Era meu amigo aqui, andávamos juntos, conversávamos muito, tanto o Guel quanto o Murilo.
Parêntese – O que te levou a essa transição do vídeo para o cinema? Por que primeiro você fazia vídeos, né?
LA – Tudo é vídeo… “Cinema” você quer dizer o quê? Eu sempre fiz cinema, mas tendo como suporte o vídeo.
P – Licínio, nessa tua trajetória riquíssima e muito variada nos filmes, você entrou em contato com a realidade de Moçambique e também da região de outros países vizinhos, filmando e gravando em situações bastante precárias e perigosas, para mostrar a realidade de precariedade social, material, tanto nas capitais, nas cidades grandes como Maputo, quanto no interior, e mesmo na linha de frente durante a Guerra em países estrangeiros no caso, você sediado em Moçambique filmando em Angola. Eu queria que você falasse um pouco da maneira como você consegue se aproximar dos seus objetos, quer dizer, como os assuntos te interessam e como você consegue estabelecer um vínculo de confiança e intimidade com os personagens que aparecem nos seus filmes, especialmente, claro, nos documentários. Como é que você faz para conseguir entrar no dia a dia dessas realidades às vezes tão diferentes, imagino, da que tu vives?
LA – A minha formação é justamente como jornalista, repórter. É o trabalho que eu fazia já na América Latina. Muitas das ideias dos filmes, dos primeiros, vinham exatamente através da leitura, crimes, situações relacionadas com a guerra, refugiados. Então eu fazia por isso, e fazia um documentário diferente desde o princípio. Antes de filmar eu ia lá sozinho para aquela região primeiro, com um intérprete local, para fazer uma pesquisa, onde começava meu relacionamento com as pessoas.
E a primeira coisa que se faz para se relacionar com as pessoas é falar com os chefes locais. Chega lá, vai visitar os chefes, vai lá, conversa, explica teu trabalho, e tudo isso e estabelece uma relação de confiança com ele. E a partir disso tu tens uma abertura total para trabalhar naquela comunidade. Eu sempre fiz uma pesquisa bastante grande, conhecia os personagens, as situações que eu queria contar. Eu tinha um grande relacionamento com eles antes das filmagens. Quando eu chegava para filmar eles já estavam a minha espera, “Vai chegar a equipe do Licínio”, e tal.
Os trabalhos sempre foram demorados. Um documentário médio ou alguns 10 ou 15 que eu fiz naqueles períodos iniciais tem 50 min, é uma média de 4 a 5 semanas de filmagens sempre, é quase como se fosse um longa-metragem de ficção. Principalmente, devido à maneira como eu faço, que tinha que conhecer as situações que haviam acontecido, quando eu estive presente na pesquisa, porque sempre era preciso um período, depois da pesquisa, para conseguir financiamento, buscar os recursos, vender a ideia. E aí, eu escrevia essas pesquisas na forma de um roteiro de ficção sem diálogo; era um documentário, como argumento, mas a história descrita exatamente como eu ia filmar. Então tinha um longo período que eu ia buscar financiamento.
E quando voltava pra lá para me instalar com a equipe, aconteciam situações diversas, inicialmente em meio a guerra, realmente, situações tensas, difíceis. Aí, eu já era uma pessoa conhecida e era muito simples o relacionamento, não tinha problema nenhum. Eu me sentia em casa, convivia com as pessoas porque não havia, em muitos casos, um alojamento, então tu tinhas que viver com as pessoas, com uma tenda no meio da casa delas, ou mesmo dormindo numa palhoça, e se estabelecia uma relação muito íntima desde o princípio, porque o relacionamento era filmagem durante o dia – à noite era mais complicado por causa da iluminação –, mas à noite, em volta da fogueira, conversando com as pessoas, ouvindo as histórias delas. E o documentário, por mais que tu tenhas uma pesquisa, uma coisa pré-definida, um roteiro, há coisas novas que acontecem durante a filmagem, é um período longo, 4, 5 semanas que a gente incorpora. Então muitas vezes essas conversas à noite eu conhecia, ficava sabendo de coisas que eu não tinha conhecimento, e aí acrescentava isso no roteiro, dentro da estrutura, com um roteiro bastante definido, dentro da estrutura dramática dessa filmagem, que seria o filme, a montagem.
P – Qual é teu critério? Tu fazes curtas, médias e longas. Como é que você define que tal assunto pode ser um filme longa-metragem ou se vai ser um médio, ou vai ser um curta. Como você elabora essa questão?
LA – Depende do assunto, né, do conteúdo, mas basicamente curtas, mesmo, eu não fiz. Só fiz quando trabalhei um período no Instituto de Comunicação Social, que eram filmes de 5, 10 minutos. Porque normalmente os filmes que são feitos em vídeo são para canais de televisão, então tem que ter aquele padrão de 50, 52 minutos. Só mais tarde eu comecei a fazer longas metragens, 1h30, já pensando em exibição em salas de cinema. Fiz alguns de 20 minutos, mas muito poucos. O que é considerado curta, menos de 26, eu acho. Não há dinheiro para cinema em Moçambique, tem que procurar dinheiro fora. O meu último foi realmente uma opção fazer um curta-metragem de ficção, porque justamente teve dois problemas devidos ao covid. As produções de longa-metragens dependem do exterior, são coproduções internacionais. Durante o covid as coisas pararam, parou o cinema em vários lugares. Então, para não ficar parado, porque cinema para mim é uma coisa que tu tens que fazer continuamente para desenvolver a linguagem, eu fiz um curta com 26 minutos, “O vento do sul” – aí seria o minuano, né, mas aqui o vento sul é no período das chuvas, no verão, começa em dezembro, janeiro, fevereiro que tem esse vento sul forte..
P – Licínio, e a questão, você trabalha muito com a Europa, é onde você tem um mercado mais receptivo?
LA – É onde está o dinheiro!
P – Como você trabalha com a questão do financiamento para teus projetos? Como tu arrumas dinheiro para trabalhar com cinema, aí em Moçambique?
[Continua...]